Pesquisadores da Feagri especializados em pós-colheita apontam o rastro para aproximar agricultor do consumidor
O
quitandeiro e a
fruta que comemos
LUIZ
SUGIMOTO
 Se
você ignorar a pecha de mesquinho e devolver ao quitandeiro aquela
maçã deteriorada por dentro, apesar de perfeita por fora,
talvez ajude a melhorar as condições de vida dos trabalhadores
que cuidam da macieira e colhem a fruta na outra ponta da cadeia alimentar.
Pois, muito provavelmente, o quitandeiro pedirá satisfações
ao fornecedor. O consumidor europeu vai muito mais longe em suas exigências:
além da garantia de qualidade, ele quer saber se o produtor respeita
o meio ambiente controlando o uso de agrotóxicos, se não
explora mão-de-obra infantil, se os empregados têm moradia
adequada, serviço médico, equipamentos de proteção.
O produtor que respeitar o tripé qualidade do produto, qualidade
ambiental e qualidade social terá a preferência deste consumidor.
Se
você ignorar a pecha de mesquinho e devolver ao quitandeiro aquela
maçã deteriorada por dentro, apesar de perfeita por fora,
talvez ajude a melhorar as condições de vida dos trabalhadores
que cuidam da macieira e colhem a fruta na outra ponta da cadeia alimentar.
Pois, muito provavelmente, o quitandeiro pedirá satisfações
ao fornecedor. O consumidor europeu vai muito mais longe em suas exigências:
além da garantia de qualidade, ele quer saber se o produtor respeita
o meio ambiente controlando o uso de agrotóxicos, se não
explora mão-de-obra infantil, se os empregados têm moradia
adequada, serviço médico, equipamentos de proteção.
O produtor que respeitar o tripé qualidade do produto, qualidade
ambiental e qualidade social terá a preferência deste consumidor.
Os professores Antonio Carlos de Oliveira
Ferraz e Sylvio Luís Honório, da Faculdade de Engenharia
Agrícola (Feagri) da Unicamp, são especializados em tecnologia
pós-colheita de produtos hortícolas. Eles atuam junto
a produtores de Valinhos que respondem por 80% dos figos roxos de mesa
colhidos no Brasil. Antes, os pesquisadores detalham o projeto do qual
Valinhos faz parte, a Produção Integrada de Frutas (PIF),
que no Estado de São Paulo contempla as culturas de figo, banana,
lima ácida, caqui, manga, maracujá, goiaba e uva fina
de mesa. A PIF paulista se insere no Profruta – programa do governo
federal para o desenvolvimento da fruticultura – e tem a coordenação
geral da Cati (Coordenadoria de Assistência Técnica Integrada).
Produtores capacitados rendem bons frutos
 “Queremos
capacitar os produtores para que melhorem a qualidade do produto final,
que será rastreado em todas as etapas de produção:
desde a seleção da muda, plantio, poda, aplicação
de defensivos, cuidados com a terra e o meio ambiente, colheita, tratamento
pós-colheita, seleção, embalagem, transporte, armazenamento,
até a prateleira”, explica Antonio Ferraz. Os procedimentos
adequados serão premiados com um selo de qualidade na embalagem.
O consumidor, por sua vez, ficará sabendo de qual pomar uma fruta
vem.
“Queremos
capacitar os produtores para que melhorem a qualidade do produto final,
que será rastreado em todas as etapas de produção:
desde a seleção da muda, plantio, poda, aplicação
de defensivos, cuidados com a terra e o meio ambiente, colheita, tratamento
pós-colheita, seleção, embalagem, transporte, armazenamento,
até a prateleira”, explica Antonio Ferraz. Os procedimentos
adequados serão premiados com um selo de qualidade na embalagem.
O consumidor, por sua vez, ficará sabendo de qual pomar uma fruta
vem.
Se a exigência nacional ainda é
baixa, grandes supermercados já começam a firmar contratos
diretos com os produtores e cooperativas, assumindo a distribuição
para suas redes. “Diferentemente do feirante que se abastece
na Ceasa, esses supermercados mantêm plataformas de trabalho com
diversos produtos, contratando produção própria,
o que permite identificar a origem. Eles não mais se arriscam
a oferecer alimentos de baixa qualidade aos clientes”, observa
Sylvio Honório. Segundo o professor, a maior deficiência
na cadeia de alimentos in natura é a enorme distância entre
consumidor e produtor. “Não existe maior grau de exigência
também porque o consumidor não recebe informações
sobre as frutas em exposição. Esse programa pretende dar
uma identidade ao produto que entra no mercado: de onde veio, como foi
cultivado, quando foi colhido, quem é o produtor”, insiste.
 Ex-lavrador
– O conceito de lavrador vai ficar no passado. Este lavrador precisará
assimilar tecnologias e procedimentos administrativos, assumindo a condição
de empresário agrícola e zelando por sua marca. Pequenos
produtores, que em tese teriam mais dificuldade para criar uma marca,
podem recorrer ao associativismo. Assim fizeram os gaúchos com
a maçã, cultura que requer alto padrão tecnológico,
capital de giro e poder de negociação. “Eles entraram
com grande competitividade no mercado internacional, por meio dos cultivares
fuji e gala. Já se criou a Associação Brasileira
de Produtores de Maçã (ABPM), que consegue negociar inclusive
com o governo, uma regalia de setores mais organizados como a Anfavea
[a associação dos fabricantes de veículos]”,
exemplifica Sylvio Honório.
Ex-lavrador
– O conceito de lavrador vai ficar no passado. Este lavrador precisará
assimilar tecnologias e procedimentos administrativos, assumindo a condição
de empresário agrícola e zelando por sua marca. Pequenos
produtores, que em tese teriam mais dificuldade para criar uma marca,
podem recorrer ao associativismo. Assim fizeram os gaúchos com
a maçã, cultura que requer alto padrão tecnológico,
capital de giro e poder de negociação. “Eles entraram
com grande competitividade no mercado internacional, por meio dos cultivares
fuji e gala. Já se criou a Associação Brasileira
de Produtores de Maçã (ABPM), que consegue negociar inclusive
com o governo, uma regalia de setores mais organizados como a Anfavea
[a associação dos fabricantes de veículos]”,
exemplifica Sylvio Honório.
Em Valinhos já existem duas associações,
uma dos grandes e outra dos pequenos produtores de figo. Os grandes,
que se organizaram para a exportação, acabam dependendo
dos pequenos para compor o lote. “Neste caso, o pequeno produtor
de figo também vira um exportador em potencial. Torna-se mais
eficaz e barato construir uma instalação comum que centralize
as operações, onde se possa fiscalizar a qualidade e a
homogeneidade do lote. As frutas precisam ter o mesmo tamanho, aparência,
grau de maturidade, o que gera parâmetros interessantes em relação
a quando e como plantar, quando e como colher, como embalar e transportar”,
afirma Antonio Ferraz.
 O
conceito – “Agricultor, lembre-se que quem vai consumir
os produtos é uma família como a sua”, é
a mensagem que acompanha uma foto de embalagens de agrotóxicos,
em propaganda que o governo goiano fez circular na revista Veja. “É
este o conceito que deve se estender ao longo da cadeia: de que não
se trabalha com figo simplesmente, mas com um alimento”, ilustra
Honório. Ele considera que, nesse sentido, o Brasil vive um momento
de revolução no campo, com um grau de conscientização
elevado. “Os agricultores têm sentido os efeitos dos agrotóxicos
na pele, literalmente, mas ainda há muita falta de informação
e treinamento”, adverte.
O
conceito – “Agricultor, lembre-se que quem vai consumir
os produtos é uma família como a sua”, é
a mensagem que acompanha uma foto de embalagens de agrotóxicos,
em propaganda que o governo goiano fez circular na revista Veja. “É
este o conceito que deve se estender ao longo da cadeia: de que não
se trabalha com figo simplesmente, mas com um alimento”, ilustra
Honório. Ele considera que, nesse sentido, o Brasil vive um momento
de revolução no campo, com um grau de conscientização
elevado. “Os agricultores têm sentido os efeitos dos agrotóxicos
na pele, literalmente, mas ainda há muita falta de informação
e treinamento”, adverte.
Antonio Ferraz observa que em alguns setores
percebe-se despreocupação total com a segurança
alimentar, em outros com os insumos e o meio ambiente. “Defensivos
muitas vezes são usados indiscriminadamente. Um colega do IAC
(Instituto Agronômico de Campinas) realizou um levantamento na
cultura de tomate, mostrando ser possível reduzir em até
60% a quantidade de espermicidas. Como? Basta que o agricultor aprenda
e respeite as técnicas preconizadas”, simplifica o professor.
 Caderneta
– Os dois pesquisadores da Feagri participam de um comitê
gestor em Valinhos, que está em vias de concluir as bases legais
para a produção de figo. Ao lado de agricultores e outros
técnicos, definem normas para treinamento no uso de agrotóxicos,
higiene nos galpões de beneficiamento, escolha de sementes ou
mudas para plantio, cuidados com os recursos naturais etc. “Elaboramos
uma grade de agroquímicos determinando, por exemplo, o período
de carência que precisa ser cumprido entre a aplicação
de um defensivo até a colheita e comercialização”,
conta Antonio Ferraz. Uma exigência da legislação
é a caderneta de campo, onde o indivíduo registra os procedimentos
em cada etapa da produção, que será autenticada
por um técnico responsável. Prevêem-se, ainda, auditorias
em estabelecimentos cujos produtos obtiverem o selo de qualidade.
Caderneta
– Os dois pesquisadores da Feagri participam de um comitê
gestor em Valinhos, que está em vias de concluir as bases legais
para a produção de figo. Ao lado de agricultores e outros
técnicos, definem normas para treinamento no uso de agrotóxicos,
higiene nos galpões de beneficiamento, escolha de sementes ou
mudas para plantio, cuidados com os recursos naturais etc. “Elaboramos
uma grade de agroquímicos determinando, por exemplo, o período
de carência que precisa ser cumprido entre a aplicação
de um defensivo até a colheita e comercialização”,
conta Antonio Ferraz. Uma exigência da legislação
é a caderneta de campo, onde o indivíduo registra os procedimentos
em cada etapa da produção, que será autenticada
por um técnico responsável. Prevêem-se, ainda, auditorias
em estabelecimentos cujos produtos obtiverem o selo de qualidade.
| Após
a colheita, tudo
envolve engenharia O figo ocupa uma área cultivada
de 560 hectares em 230 propriedades no “Se a figueira for bem conduzida,
garante-se um figo bom. Colhida a fruta O professor informa que pós-graduandos
da Feagri já testaram uma tecnologia mais barata, a do
resfriamento, que permite colher o figo num ponto mais adequado,
com melhor aparência, textura e sabor. “Não
se trata de congelamento, mas de se retirar o excesso de calor
da fruta exposta ao sol, mantendo-a fria. O calor acelera a
fisiologia. Retirando o calor, o processo ocorre bem mais lentamente,
chegando ao exterior em boas condições de consumo”,
explica. Em Valinhos, os dois pesquisadores descem a detalhes
como o látex que escorre do talo do figo quando colhido,
que mancha o fruto e forma um depósito propício
à contaminação na cesta de bambu usada
na colheita; por isso, em parceria com a Embrapa-São
Carlos, desenvolvem um contentor mais higiênico e ergonômico,
em que o fruto deverá ser depositado com o talo virado
para baixo. Eles também estudam a perda da água, que compõe cerca de 70% do figo, no trajeto até o consumidor. Descobriram, ainda, que uma vibração de 4 hertz durante o transporte por caminhão produz o efeito de comprimir a embalagem, marcando o figo; e que a de 13 hertz faz a fruta girar na embalagem, provocando abrasões na casca – uma nova embalagem é alvo de outra pesquisa. Uma imagem nesta página, ainda inédita, mostra o interior de um figo com o recurso da tomografia de ressonância magnética. “Esta técnica permite verificar o comportamento da fruta em certas condições de manuseio e transporte, o que só seria possível cortando-se o fruto”, explica Antonio Ferraz. Como nunca veremos tal equipamento na quitanda, a alternativa do freguês é devolver o produto estragado. |
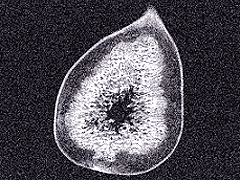 Estado de São Paulo, com uma produção anual
de 8.500 toneladas do chamado “figo roxo de Valinhos”
para mesa, mais 450 toneladas do figo verde para a indústria.
Nos dois últimos anos, entre 30% e 40% da produção
foram exportados para a Europa, aproveitando o período
de entressafra do figo da Turquia, maior fornecedor daquele
continente, mas que fica incapacitado de atender à demanda
nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Uma meta, agora,
é ampliar esse mercado fazendo com que os europeus, no
restante do ano, se lembrem da qualidade da fruta brasileira.
Estado de São Paulo, com uma produção anual
de 8.500 toneladas do chamado “figo roxo de Valinhos”
para mesa, mais 450 toneladas do figo verde para a indústria.
Nos dois últimos anos, entre 30% e 40% da produção
foram exportados para a Europa, aproveitando o período
de entressafra do figo da Turquia, maior fornecedor daquele
continente, mas que fica incapacitado de atender à demanda
nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Uma meta, agora,
é ampliar esse mercado fazendo com que os europeus, no
restante do ano, se lembrem da qualidade da fruta brasileira.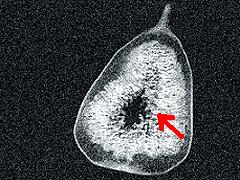 do pé, tudo o mais envolve engenharia”, resume
o professor Sylvio Honório, referindo-se à importância
do trabalho pós-colheita e do conhecimento dos técnicos
sobre transferência de calor e de massa e das propriedades
mecânicas, químicas e físicas do produto,
entre outros parâmetros. A propósito, o figo que
é embarcado ainda um pouco verde, a fim de que chegue
ao país comprador no tempo para consumo, poderia ter
maior qualidade. “O sabor fica muito distante da fruta
que se come aqui, amadurecida no pé”, afirma Honório.
do pé, tudo o mais envolve engenharia”, resume
o professor Sylvio Honório, referindo-se à importância
do trabalho pós-colheita e do conhecimento dos técnicos
sobre transferência de calor e de massa e das propriedades
mecânicas, químicas e físicas do produto,
entre outros parâmetros. A propósito, o figo que
é embarcado ainda um pouco verde, a fim de que chegue
ao país comprador no tempo para consumo, poderia ter
maior qualidade. “O sabor fica muito distante da fruta
que se come aqui, amadurecida no pé”, afirma Honório.